Pergunta: Uma vez que conheceu bem o seu avô, o que lhe contou sobre o período que passou na frente na Flandres, na Primeira Guerra Mundial?
Resposta: As memórias que eu tenho são mais ou menos entre os meus 15 anos e os 20 e tal, em que tive imensas conversas com ele. Aliás era um bom conversador gostava imenso de contar histórias da guerra e não só, também de outras fases da vida dele. Eu lembro-me que havia coisas que me deixavam extremamente curioso quando o ouvia porque me surpreendiam.
Surpreendia-me por exemplo que ele me dissesse que tinha sido preso sem dar um tiro, são coisas que me ficaram gravadas na memória. Porque eu não percebia muito bem naquela altura como é que se estava numa batalha e se era preso sem dar um tiro. E ele explicava e depois da explicação ficava lógico. A chegada das tropas alemãs de certo modo não era uma surpresa, porque a superioridade do exército era de tal ordem que percebia-se que a qualquer momento iam esmagar a resistência portuguesa. Mas a chegada ao posto recuado que era o posto médico, foi inesperada no momento em que aconteceu.
E, em termos do número de soldados, foi de tal maneira impressionante que o que ele contava é que de repente tinham entrado imensos alemães pela rua e pelo posto dentro e todos tinham parado de fazer o que estavam a fazer, ele estava a operar ou estava a tratar de um ferido e teve que parar e foi levado imediatamente. Quer dizer, eles não tiveram tempo sequer de pegar numa arma.
Essa era uma recordação de que ele falava muito, porque era algo que eu tenho ideia que o tinha traumatizado um pouco, não poder continuar a tratar os feridos. Havia feridos a chegar constantemente e ele era médico, no entanto levaram-no. Isso, tenho ideia que o marcou profundamente. Até porque depois teve de andar, foi preso e foi a pé para o campo de concentração, foi a andar.
P.: O que mais lhe contou o seu avô sobre esse dia em que irromperam as tropas alemãs?
R.: O que eu me recordo de ele ter contado é que estava na enfermaria a ver os doentes e que entrou um sentinela aos gritos a dizer: "Meu Tenente estão ali os alemães". E mal ele tinha acabado de falar, eles já estavam lá dentro. E estavam a prendê-los todos. A prendê-los e a levá-los imediatamente. E portanto que ele não teve quase tempo de reação. Quer dizer, não pôde fazer nada.
E eu percebi que isso o marcou. Porque digamos, gerou no espírito dele uma reação de indignação.
Era indiferente que ele fosse português, francês, inglês, ou alemão: era um médico que estava ali. Esta era a recordação principal que ele contava. Ele dizia muitas vezes eu estava no posto e de repente só ouvi dizer chegaram os alemães e levaram-me. Eu queria continuar a fazer os tratamentos."Eu sou médico eu não quero dar tiros eu não estou aqui a disparar contra ninguém, não estou a fazer mal a ninguém e não me deixam fazer o meu trabalho e tratar as pessoas que precisam".
Eu creio que nessa altura ele não falava alemão e suponho que os soldados alemães não falariam francês. Aliás é um outro aspecto que eu recordo, porque também me surpreendeu na minha adolescência, conforme fui falando com ele e ele ia contando episódios da guerra, um aspecto que me surpreendeu foi ele gostar de falar alemão, que não falava nessa altura. Quer dizer, a guerra e a prisão de certo modo enriqueceram-no nesse aspecto, de passar a conhecer uma nova língua. Ele falava razoavelmente inglês, falava bem francês e de repente o alemão para ele passou a ser a sua segunda língua.
E quando voltou para Portugal, continuou durante anos e anos. Lembro-me de ele nos ir visitar todas as semanas a nossa casa à hora do lanche, e ficava umas horas a contar histórias e havia uns dias em que ele dizia: não posso ir, tenho lição de alemão. Ele continuava a ir para a lição de alemão. Continuava a aperfeiçoar a língua alemã.
E isso foi uma coisa que me surpreendeu porque no meu espírito era estranho como é que se ficava a gostar da língua de alguém de um povo que era inimigo e que o tinha tratado mal, mas a verdade é que ele sentiu essa necessidade provavelmente também porque tinha que se entender com as pessoas na prisão, tinha de se entender com os alemães e portanto tinha de acabar por ir aprendendo alguma coisa de alemão. Mas naquela altura, se tentou explicar alguma coisa aos comandos alemães que entraram no posto médico, deve ter sido por gestos com certeza.
P.: Contou-lhe mais alguma coisa sobre o que aconteceu antes da batalha e o que tinha acontecido nesse dia?
R.: Não, ele não tinha propriamente memórias da batalha em si, visto que não tinha estado na frente e aquilo que realmente recordo, era o choque no espírito dele, a contradição: não era ferir ou morrer ou matar, era não poder tratar, não poder fazer o papel dele. A razão por que ele lá estava, não era propriamente para ir combater, era para tratar dos feridos. E isso é que o chocou. "Que guerra é esta, que vencedores são estes que não me deixam tratar dos feridos". Era a grande imagem que ele sistematicamente punha quando falava nisso.

P.: E terá dito alguma coisa sobre o moral das tropas, que ele se lembrasse?
R.: Bom, ele usava muito uma palavra, que para mim tinha um sentido diferente naquela altura daquele que ele, depois vim a perceber, que ele lhe dava. Que era miséria. Tinha um sentido diferente porque nós habituamo-nos, enfim o sentido comum é a pobreza ou pobreza extrema. Ele usava no sentido de descrever o estado em que ele se sentia. Portanto um sentido um pouco diferente daquele que habitualmente é dado, e precisamente a descrição que ele fazia, a maneira como ele adjectivava o estado de espírito em que se sentiu e em que as tropas se sentiam era miserável.
Eu creio que o que ele queria dizer com isso é que o moral das tropas não podia ser mais baixo. Porque a miséria é a extremidade de qualquer coisa. E portanto o significado era a depressão completa em termos do estado moral das tropas. Quer dizer, estavam vencidos e sem capacidade de reação e se calhar sem vontade, ou pelo menos sem meios de espécie nenhuma, para reagir.
Isso aliás recorda-me uma outra coisa que me surpreendia na altura, de que ele falava muitas vezes e que me surpreendia. Surpreendia porque nós, a nossa história oficial tal como a aprendemos, na escola, e aprendemos muito baseada em quem é amigo e quem é inimigo, nós estudávamos que, particularmente nesse período da Primeira Guerra, os ingleses eram os amigos e os alemães eram os inimigos. E eu recordo-me que quando se falava nos ingleses ele tinha uma reacção de profundo desprezo.
Ele reagia de uma forma que me surpreendia porque eu pensava: "Mas estes não eram os nossos amigos?". Ele dizia:
Os alemães não era suposto ajudarem-nos, os ingleses é que era, portanto esses é que nos atraiçoaram". E isso levou a que ele de facto ficasse por toda a vida com uma impressão extremamente negativa dos ingleses."Não, os ingleses foram o pior, os nossos piores inimigos foram os ingleses, porque os alemães estavam no papel deles.
P.: E o que entendia ele por "atraiçoaram-nos"?
R.: Queria dizer que no fundo os ingleses tinham abandonado o Corpo Expedicionário Português, as tropas portuguesas. Quer dizer, numa expressão que é muito típica dos militares, os portugueses eram carne para canhão. Quer dizer, é de alguém que estava ali na frente, eles já sabiam que iam ser dizimados e não se preocuparam nada com isso, foram tomar as suas posições e supostamente eram aliados. Deviam estar a ajudar em termos de meios, em termos de meios, armas e em termos de meios humanos e não estavam.
Quer dizer, foram completamente abandonados, os portugueses. E ele nunca perdoou isso aos seus aliados. Portanto virava a sua indignação, em relação ao que se passou na batalha, contra esses aliados e não contra os inimigos, porque os inimigos enfim, era isso que ele achava, estavam no seu papel.

P.: Mas voltando a essa questão, em que é que ele achava que os ingleses abandonaram os portugueses, o que é que concretamente podia tomar como sinal desse abandono? O que lhe dizia o seu avô sobre isso? Não é o que nós sabemos hoje, mas o que ele lhe contou, que exemplos lhe deu?
R.: Eu não me lembro de exemplos em especial. Lembro-me de ele achar, de me dizer fundamentalmente isto, as tropas portuguesas eram consideradas o ponto fraco daquelas linhas em França. Era o ponto mais frágil.
Os alemães sabiam isso e não foi por acaso que entraram por ali. Sabiam que era onde estavam as tropas mais desmoralizadas, em que os homens, os militares, não eram substituídos, não eram renovados já há imenso tempo. Sabiam que as munições faltavam, sabiam que as armas faltavam, sabiam que até faltava fardamentos, sabiam que faltava tudo, e portanto, obviamente para qualquer estratega militar era aquele o ponto por onde se devia entrar.
Mas noutras zonas da região havia tropas sobretudo inglesas. Franceses também, mas os franceses também não estavam muito bem e depois havia tropas inglesas e o que se esperava é que numa batalha daquela importância e com a extrema fragilização em que estavam as tropas portuguesas os aliados viessem dar uma ajuda, é para isso que são aliados.
E o que ele dizia era que os apelos sistemáticos que houve dos comandos portugueses aos comandos ingleses não tiveram qualquer resposta mínima de apoio, e portanto foram abandonados à sua sorte. O comando geral era inglês, e aquele corpo do exército que estava ali não contava. E, para quem está no campo e se sente eventualmente desmoralizado, não ser ajudado é a pior traição que pode haver. Eu penso que daí veio a reacção dele contra os ingleses, ficou marcadíssimo.
Pelo contrário ao longo do tempo em que esteve na prisão, aprendeu de certo modo a gostar da Alemanha e dos alemães, que acabaram por nalguns casos concretos o ajudar na fuga. Mas como lhe digo era um aspecto que eu nunca compreendi muito bem, porque era contraditório com aquilo que eu supunha saber, mas também nunca consegui que ele me desse exemplos concretos, quer dizer, ele achava: "Os nossos amigos atraiçoaram-nos porque nos abandonaram". E este era o discurso dele.
P.: Sabe há quanto tempo é que o seu avô estava na Flandres?
R.: Eu não sei exactamente, creio que ele tinha chegado há um ano ou coisa assim, à volta disso.
P.: Sabe qual foi o trajecto que ele fez até chegar lá? Ou se ele fez alguma preparação antes, se foi directamente para lá e como foi...
R.: Foi de barco. Mas o que ele me contava nesse aspecto, o que eu me lembro de ele contar da partida de Portugal é que tinha sido tudo preparado em cima do joelho. Quer dizer, tudo de uma forma muito amadora. Quando chegavam lá é que é que davam por falta de coisas de que não se tinham lembrado, em termos de mantimentos, portanto tudo um bocadinho de uma maneira amadora.
P.: Ele explicou-lhe mais em detalhe esses preparativos?
R.: Repare: ele não estava propriamente num sector em que lhe competisse fazer essa organização, o que ele sentiu foi depois, sentiu-se como vítima disso. É porque, quando chegaram e ao longo do tempo em que estavam já na Flandres, começaram a notar que faltavam os fardamentos, faltavam as munições, quer dizer faltava tudo o que era essencial para quem fosse combater. E portanto as condições que tinham mostravam que a organização tinha sido defeituosamente preparada, toda a expedição tinha sido. Aliás, ele dizia-me, a expressão que ele usava era uma expedição feita à pressa. E o que queria dizer era isto: era mal organizada mal preparada.
P.: E sobre o embarque e o desembarque, contou-lhe alguma coisa? As primeiras impressões quando chegou à Flandres?
R.: Não, não me recordo. Ele centrava mais os relatos dele - que era provavelmente o que o tinha marcado mais - sobre a prisão, o tempo que tinha passado na prisão e a fuga. Até porque, na altura, o que gostava mais de ouvir eram aqueles relatos, aqueles episódios da prisão, e da fuga sobretudo, que era uma coisa que eu ouvi contar várias vezes, porque achava uma coisa extraordinária ter fugido.
E o próprio dia a dia na prisão também nos surpreendia porque nós tínhamos uma imagem que deveria ser uma coisa soturna onde não havia nada para fazer e as pessoas estavam fechadas. E aqueles episódios que ele contava, aquela organização, aquela auto organização, a partir da criação da comissão, a criação de bibliotecas, de jogos, ele explicava com a necessidade de ... ele usava a expressão: "Nós tínhamos de nos manter vivos". O manter vivos era fazer coisas, era manter a cultura presente, era fazer teatro, era: "Temos de nos manter aqui vivos como se não estivéssemos prisioneiros".
E isso era um aspecto que nós, netos, achávamos interessantíssimo ouvir, porque era uma imagem da prisão que não coincidia nada com aquilo que nós achávamos que era uma prisão. Mas sempre que contava esses aspectos, que no fundo eram aspectos de algum modo positivos, que ele recordava com prazer, o teatro, os jogos, também contava sempre que isso se passava num ambiente de miséria, num ambiente de extrema solidão.

P.: Quais eram as maiores preocupações do seu avô?
R.: Eu penso que o que resultava das palavras dele era que as necessidades básicas dos prisioneiros eram a principal preocupação, a alimentação. E de facto não tinham que comer, mas estavam impedidos de o dizer, porque as cartas, a correspondência, era censurada e portanto não podiam escrever uma carta a dizer que tinham fome. O que fixei no meu espírito, porque me fez confusão na altura foi precisamente ele dizer-me que tinha fome. Eu dizia: "Mas porque é que simplesmente não escrevia uma carta a dizer que tinha fome?" Não, os alemães não deixavam.
Mas porque é que os alemães não deixavam? Porque eles próprios tinham fome. Bem mas se eles tinham fome, podia escrever uma carta a dizer todos temos fome aqui, mandem comida para todos. Não porque os alemães queriam manter externamente a imagem de que tudo se passava bem, de que havia prosperidade. Portanto era uma imagem que eles precisavam de transmitir quer para o exterior, para os outros países, quer para o próprio povo alemão. Portanto, não podiam correr o risco de haver cartas publicadas no estrangeiro, cartas de prisioneiros, dizendo que passavam fome e que os próprios alemães também passavam fome.
Então tinha de se encontrar formas de dizer que se tinha fome e uma que ele utilizou, uma das primeiras que utilizou, de que aliás fala no livro dos Prisioneiros de Guerra na Alemanha, foi enviar uma fotografia dele numa cela com um quadro, e eu olhava para aquilo e dizia: "Mas, oh avô, mas onde é que diz aqui que tem fome? Como é que alguém olha para esta fotografia e diz que tem fome?".
E ele dizia: "Esta fotografia foi enviada para a minha mãe, e eu na carta dizia: ‘Não nos falta nada'". Então mas isso, pior ainda, porque como é que é possível, como é que quer transmitir uma mensagem de que tem fome, de que não há comida e diz que não lhe falta nada. E ele dizia uma coisa que nunca mais me esqueci.
E realmente segundo ele diz, pouco depois chegaram várias encomendas da comida típica portuguesa, enchidos e essas coisas, embora, ao que parece, muito roubados pelo caminho, chegava já muito menos do que era enviado. Mas apesar de tudo lá ia chegando alguma coisa. E os próprios alemães nessas encomendas roubavam coisas."As mães percebem tudo. Pronto eu estou a escrever à minha mãe, mando-lhe esta fotografia, digo que não me falta nada, ela vai perceber que falta tudo o que não está na fotografia. Estava tudo menos comida".
P.: E sobre o campo de Breesen, que foi o seu último campo e só de portugueses, que mais lhe contou ele?
R.: A ideia com que eu fiquei, foi que dentro da prisão o relacionamento tinha altos e baixos. No fundo será o que é normal, não é? As pessoas escolheram a comissão, mas depois havia grupos que contestavam a comissão. Enfim isto é normal o que seria talvez anormal é que a comissão eleita nunca tivesse sido objecto de contestação, nunca tivesse sido objecto de discussão.

De tal maneira que eu tenho ideia de ele me ter contado que a certa altura não sei se um ou se quase todos os membros da comissão acabaram por pedir a demissão e houve outra vez houve nova eleição, portanto houve ali fases mais difíceis, e isso naturalmente reflectia os problemas de relacionamento entre os prisioneiros portugueses.
Pelo contrário, tenho ideia também que ele me dizia que o relacionamento dos portugueses através da comissão com os comandos alemães era civilizado, era uma relação de respeito mútuo, respeito entre militares, não como vencidos, vencedores, mas como militares. E isso era algo que ele recordava com uma ideia positiva relativamente aos vencedores, são vencedores que apesar disso não são arrogantes no tratamento dos vencidos, tratam com dignidade os vencidos.
P.: Voltando ao relacionamento entre os prisioneiros portugueses, ficou com ideia que corria bem ou também havia desavenças?
R.: A ideia que eu tenho é que na generalidade davam-se bem, mas que periodicamente havia desavenças.
P.: E era um campo só de oficiais?
R.: Era um campo só de oficiais. Ele era dos mais novos, tinha a patente mais baixa. Ele antes era alferes, mas depois passou a tenente, exactamente quando foi integrado no Corpo Expedicionário. O oficial mais graduado era tenente-coronel, era o presidente da comissão, tenente coronel Craveiro Lopes e depois havia majores, capitães e tenentes e a eleição da comissão, não foi uma eleição de voto indiscriminado nas pessoas, foi uma eleição em que cada patente elegeu o seu representante. Portanto a eleição não foi como um bloco da comissão: elegeram-se os capitães, elegeram-se os tenentes. E portanto abaixo de tenente eu creio que não havia alferes.

P.: E sobre a fuga, o que se lembra do que ele lhe contou sobre a fuga?
R.: O que me lembro sobre a fuga, é também aquilo que no meu espírito de adolescente me fez mais confusão. É porque é que era preciso um sistema tão complicado para fugir. Porque a guerra já tinha acabado supostamente. E eu não percebia duas coisas. Primeiro não percebia porque é que, se já tinha acabado, não eram repatriados de imediato. E depois não percebia, não sendo repatriados porque é que não fugiam com toda a facilidade e muito simplesmente.
E portanto foi preciso ouvi-lo, e naquela altura perceber coisas que para mim eram incompreensíveis. Como por exemplo: não eram repatriados porque havia uma total indiferença e incompetência das autoridades portuguesas e portanto eles não só não eram repatriados como não sabiam se iam ser. Eles sentiam-se aí também mais uma vez abandonados, agora não pelos ingleses nas batalhas, mas pelos seus próprios compatriotas, pelo seu governo.
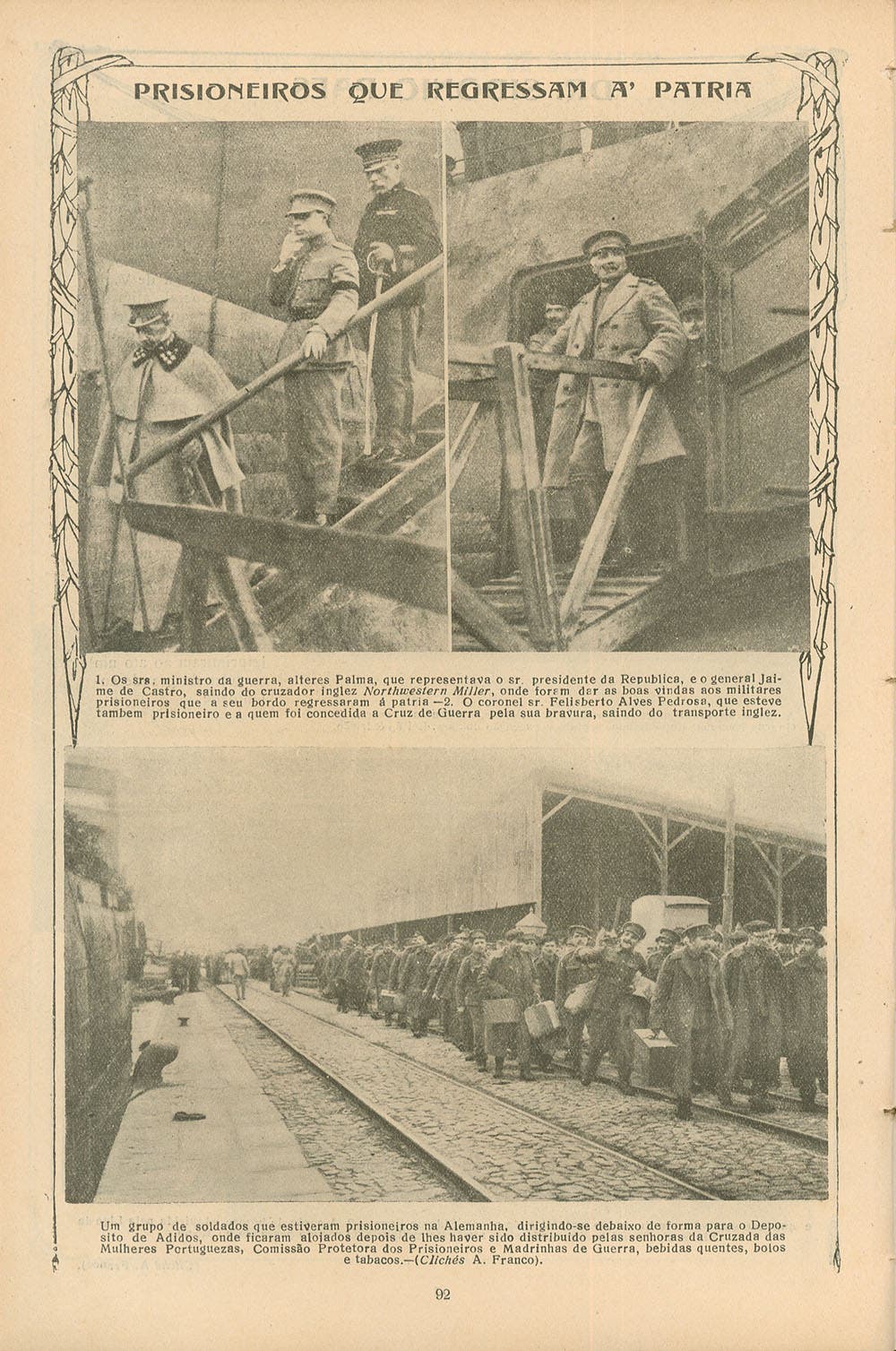
E embora eu tenha ideia que chegou a estar previsto o repatriamento, no entanto eles achavam que não ia acontecer, eles não acreditavam: "Pode ser que sim mas não vale a pena estarmos à espera. Pois se estivemos aqui este tempo todo em guerra, presos, e nunca nos foi dado apoio nenhum, nem antes de estarmos presos, nem depois ...", Que confiança era possível terem que, de repente, o governo ia pensar neles, as autoridades portuguesas iam pensar neles, iam lembrar-se deles e repatriá-los? Esse era um dos aspectos.
E o segundo era: então se havia esse abandono por parte das autoridades portuguesas e essa dúvida se alguma vez o repatriamento ia acontecer e em que condições ia acontecer, porque é que pura e simplesmente não se iam embora. E a resposta aí era a parte mais difícil para nós compreendermos, porque tinha a ver com o conceito da honra. Da honra militar. Ele dizia-me:
Ainda hoje quando falo nisso fico um bocado arrepiado, porque era uma coisa que para mim era absolutamente incompreensível. Não que não achasse que o conceito de honra é um conceito importante e que dar a palavra de honra, não seja importante, mas acho que ali havia, utilizando uma figura jurídica, um estado de necessidade, quer dizer tudo se sobrepunha a esse conceito e esse respeito pela palavra de honra, era a vida que estava em causa."Não, é que nós tínhamos dado a palavra de honra que não fugíamos".
Mas ainda assim para aqueles militares, embora estivesse em causa a vida e a morte, a honra sobrepunha-se. E portanto inventaram aquele esquema complicadíssimo, ouvia-o contar várias vezes e de cada vez ficava maravilhado com o episódio. Porque eles podiam sair, podiam afastar-se do campo de concentração, mas tinham um cartão em que declaravam, com o nome deles, em que declaravam pela sua honra que não se afastariam mais do que uma determinada distância. E aquilo era respeitado escrupulosamente todos os dias, cada um entregava o seu cartão e à entrada recebia de novo o cartão.
E o que eles fizeram, muito simples afinal, mas resolveu-lhes o problema da honra militar, o problema interior que eles próprios tinham, foi trocar os cartões e portanto quando cada um deles entregou um cartão em que declarava o compromisso de honra, para eles não era válido, eles não se sentiam obrigados porque não era o cartão deles, não era a assinatura deles, não era a declaração deles.
E depois - esse era o aspecto que me apaixonava mais ouvir porque estranhava-o e depois havia todas as peripécias da fuga, que me deixavam também maravilhado - sobretudo porque era a pé. Porque para mim, na altura muito jovem imaginar que se ia a pé da Alemanha à Holanda, para mim era um acto de heroísmo. Eu considerava o meu avô herói quanto mais não fosse só por ter feito aquele percurso a pé. E ter de se esconder pelo caminho, ter de ser nalguns casos ajudado, parece que foi ajudado por civis alemães e até por soldados. Dos relatos dele sobressaía sempre a miséria em que iam, miséria de falta de meios, e a ajuda aqui e ali dos civis alemães, indispensável para não serem apanhados.
E enfim no outro extremo do relato, o abandono o desinteresse a que sempre tinham estado sujeitos por parte das autoridades portuguesas. Mesmo quando chegaram à Holanda eu creio que até foi a embaixada de Espanha ou outras entidades de outros países que lhes deram o apoio que eles precisavam.

P.: Por fim acha que ele se sentiu esquecido, que eles se sentiam esquecidos?
R.: Na ideia com que eu fiquei, esquecidos é pouco. Quer dizer, esquecidos, a palavra em si tem menos intensidade, tem menos força, do que a ideia que eu gravei no meu espírito daquilo que ele dizia, mais abandonados mesmo. Embora, de certo ponto de vista, pode-se dizer que, além de abandonar, quando se esquece, quer dizer é como se as pessoas não existissem, talvez nesse sentido tenha razão, talvez nesse sentido seja mesmo esquecidos.

