O epicentro da Revolução dos Cravos foi Lisboa e o Largo do Carmo é conhecido como um dos principais palcos das movimentações daquele dia. Mas para uma miúda de 13 anos como Maria João, que se preparava para uma dia de aulas normal, a agitação da cidade e as posições militares não foram bem compreendidas ao início.
O rádio era sempre ligado por volta das seis da manhã, todos os dias. Os pais de Maria João gostavam de ouvir os noticiários ao pequeno-almoço, antes de saírem para a rotina laboral. Naquele dia, começou a “ouvir-se sistematicamente o Paulo de Carvalho” a tocar.
Ao tomar o habitual caminho de casa, em Algueirão, para Lisboa, a família notou que havia movimentações pouco habituais na zona.
“Viemos para Lisboa sempre com o rádio ligado no carro, sem saber o que estava a acontecer. Contudo, sempre com a mesma canção. A famosa música ‘E depois do adeus’”, começou por contar.
Antes de ir para o Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho, o pai deixava a mulher na Casa da Moeda, onde era conferente, e a filha que ficava a aguardar, na zona do Arco do Cego, pela carrinha da escola. O pai de Maria João seguia depois para Alvalade, onde se localizava a empresa onde trabalhava. Naquele dia solarengo de abril, quando atravessavam a antiga autoestrada de Lisboa-Sintra, atual IC19, viram “uma coluna de militares com G3, capacetes, jipes, em toda a linha e em ambos os lados” do Palácio de Queluz.
Pelo caminho, a jovem de 13 anos ia questionando-se porquê que havia militares em Queluz e a rádio só passava a canção do Paulo de Carvalho. Nada sabia, mas hoje reconhece que, na altura, a mãe “tinha um bocadinho a noção daquilo que se passava”, principalmente pelos relacionamentos “que tinha com a Judite Barroso, a Maria Barroso, o Mário Soares, e pessoas dessa geração”.
“A minha mãe tinha um bocadinho a noção do que é que aquilo podia ser, mas não veiculou, ou o que veiculou para o meu pai, eu não percebi”, afirmou.
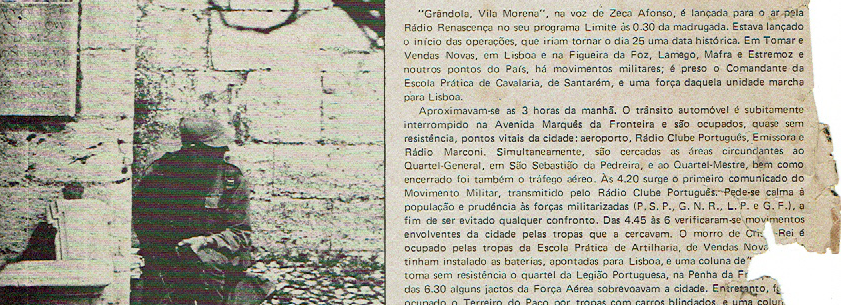
“Passar pelos militares no Palácio de Queluz (…) não era muito traumático”, declarou Maria João. “Agora quando cheguei à Casa da Moeda e vejo militares de G3 em punho, eu confesso que os meus 13 anos ficaram muito ofendidos”.
Hoje com 63 anos, a jurista recorda a própria reação entre risos e gracejos.
“O curioso é que eu não fiquei com medo. Eu fiquei furiosa”, expressou. “A título de que santo é que nos estavam a receber a nós (…) de armas em punho?!”.Depois daquela receção, Maria João ficou na entrada do edifício a aguardar, como de costume a carrinha para o liceu. E se já estava furiosa, como admitiu, ficou mais inquieta quando os militares se “sentaram nas escadas de pedra com as G3 ao lado, tipo Copacabana”.
“Lembro-me que tremia furiosa. Não me metiam medo, não estava assustada. Mas achava que aquilo era excessivo. Era um teatro tão aparatoso e excessivo para pessoas normais”, descreveu então. “Hoje percebo, mas naquela altura não. (…) Até porque sempre aprendi que [os militares] eram uma autoridade para respeitar. Para mim aquilo era uma contradição de termos”.
Entretanto a carrinha chegou e foi para a escola. No trajeto para o liceu não se recorda de ter notado algo de diferente. Não havia trânsito cortado ou movimentações anormais. Qual não é o seu espanto quando repara que a entrada das alunas para o liceu feminino Maria Amália Vaz de Carvalho estava também cercada por militares com G3.
“Os militares estavam na porta onde nós entrávamos e não nos deixavam entrar e queriam que nós entrássemos pela porta principal [dos professores]”, relatou não escondendo a apreensão que sentiu naquele momento. “Como se não bastasse, vieram dois militares dar-nos ordens como se fossemos da tropa também. (…) Aquilo estava a maior confusão possível”.
Relutante, acabou por seguir os militares, entrar na escola e por ficar com as colegas no pátio interior.
“Não tive aulas. Não vi os professores nem a diretora”, retorquiu, recordando ainda que durante a manhã, os militares que estavam no pátio foram ao ginásio “buscar raquetes e andaram a jogar badminton e pingue-pongue”, deixando as “armas encostadas à parede”. Ação que Maria João ainda hoje considera que foi de alguma irresponsabilidade, porque ninguém sabia o que se passava e algumas raparigas estavam receosas com aquele aparato militar no recinto escolar.
Na escola ninguém “falava de nada, até porque a maioria das pessoas não tinha a noção do que estava a acontecer”. Até porque “a maior parte das miúdas estava aterrorizada, não havia conversas”.
“Naquele dia ninguém falava. E como o corpo docente também não apareceu, acho que acentuou mais as fragilidades”.
O General Francisco da Costa Gomes era primo da madrinha Elisa, como lhe chamava Maria João, e “já lhe teria passado algumas informações”, que por ser ainda jovem não compreendeu logo.
Para Maria João, a revolução foi em parte um “aproveitamento de um grupo de militares, que tinham direito às suas reivindicações”, mas acredita que apesar disso “resultou numa coisa muito positiva”.
“Teve a grande positividade de não haver derramamento de sangue”.
"Amarrámos a professora com a bandeira nacional"
“Isto aconteceu cedo o suficiente para eu não ir às aulas”, brincou.
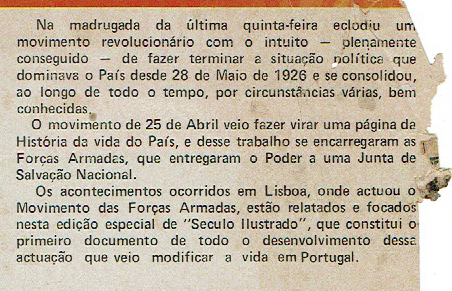
Embora reconheça que era muito novo, lembra-se de “uma certa apreensão” que se sentia em casa ao longo do dia, enquanto os pais tentavam perceber a situação.
“Não sabiam bem o que é que aquilo ia dar”, referiu. “Mesmo em Algés havia movimentações, qualquer coisa a acontecer”, lembrou-se também, não esquecendo os “jatos das Forças Armadas” que viu passar.
Nos dias seguintes, “as conversas tornaram-se muito mais políticas”. E ao reviver esses tempos, contou que a “a única coisa que fazia era desenhos dos militares e de explosões”.
Agora com 58 anos, o antigo professor de Biologia nos Estados Unidos, destaca que o episódio que mais o marcou aconteceu na segunda-feira seguinte quando voltou à escola.
“Quando voltámos à sala de aula, (…) a professora fez uma sondagem sobre alguns partidos políticos e depois, para simbolizar o fim do Estado Novo, nós agarrámo-la à cadeira com o cordão da bandeira [de Portugal]”, contou com alegria.No pós 25 de Abril, a família de José Pedro enfrentou grandes mudanças, principalmente porque grande parte vivia em Angola.
“Passaram de uma vida bastante boa para uma situação relativamente precária. E isso refletiu-se na família de forma óbvia”.
Além disso, um dos tios tinha sido “um agente de fronteira da PIDE” e por isso “havia uma certa preocupação” quanto ao seu futuro.
Aos oito anos, achava que o que se passava à sua volta e o que via nas notícias era normal.
“Nunca tinha passado por uma revolução, portanto parecia-me uma revolução perfeitamente normal”, concluiu.
O movimento dos capitães de Abril, transformado depois em Movimento das Forças Armadas (MFA), que derrubou o regime ditatorial de 48 anos, fundado por António Salazar, teve como palco principal a cidade de Lisboa. Mas o impacto da Revolução chegou a outras zonas do país.
Em Coimbra, uma cidade onde a agitação política e estudantil já se fazia sentir muito antes daquele mês de abril 1974, há relatos de multidões a sair à rua. E foi desde a janela de casa que Jorge, aos 12 anos, assistiu às celebrações da Revolução de Abril na rua Antero de Quental.
Era um dia normal de primavera, estava sol e Jorge saiu pela manhã em direção ao Liceu José Falcão. Enquanto caminhava pela rua onde cresceu, foi se apercebendo que as “pessoas começaram a juntar-se ao edifício” da PIDE. Vivia, desde 1970, na Antero de Quental, num prédio mesmo em frente à antiga PIDE/DGS de Coimbra, onde foi “praticamente o epicentro das ações do dia 25 de Abril” na cidade.
Quando chegou à escola apercebeu-se de “uns burburinhos, umas conversas sobre um golpe de Estado”.
“Eu tinha 12 anos. Um golpe de Estado, para mim, era uma coisa estranha de ouvir”, descreveu, e embora não soubesse o que se passava em Lisboa, sentia que na “escola já havia agitação”.
Só no regresso a casa à hora de almoço é que teve “alguma dificuldade a passar” na rua até chegar à porta do prédio.
“A tropa já tinha tomado conta desta zona, porque já se começava a acumular aqui uma série de pessoas”, explicou enquanto mostrava o largo que separa a residência da sua família e o edifício da PIDE. “Já estavam a controlar a chegada das pessoas. Como eu era morador deixaram-me passar”.
“Vivíamos nesta casa mesmo em frente. No andar de baixo”, indicou, acrescentando que a partir do momento em que entrou, nesse dia, pela porta de casa ficou a “assistir a tudo o que se desenrolou” naquela rua pela janela.
“Isto era um mar de gente”, recordou.

“Durante duas ou três noites, se não estou em erro, as pessoas não saíram daqui. Ficaram aqui, sem condições, em pé. Eram civis”. E os militares, continuou a contar enquanto descia a mesma rua, “começaram a tomar posição porque estava a começar a ficar perigoso, visto que os funcionários da PID/DGS estavam lá dentro”.
“Começaram a ver que isto mais tarde ou mais cedo ia dar mau resultado”, porque a multidão “aguardava a saída dos funcionários da PIDE para irem para a prisão”.
As forças de segurança, por isso, “tomaram posição aqui de forma a evitar que houvesse um assalto ao próprio edifício”. Era uma situação perigosa, sublinhou, considerando que os “funcionários da PIDE também tinham armas e cá fora estavam os militares a tentar evitar que as pessoas se aproximassem”.
E parando em frente ao edifício contou como os militares preparam a saída dos agentes da PIDE, com “camiões tipo berliet”. Apesar dos tropas tentarem manter a tranquilidade da multidão “houve apedrejamentos, as pessoas tentavam aproximar-se deles”.
Da janela de casa viu ainda, segundo contou, alguns carros dos agentes da Polícia Internacional e de Defesa do Estado a serem incendiados por civis.
Nos dias seguintes, ainda houve pessoas que se foram manifestar na rua do especialista em Finanças e Contabilidade, hoje com 62 anos, junto ao quartel-general.
“Foi uma experiência in loco”, disse Jorge em tom de brincadeira.
Apesar da ânsia dos civis conimbricenses em querer apanhar à saída os funcionários da PIDE, em consequência da repressão que os próprios representavam, “sentia-se um ambiente festivo”, embora “difícil de explicar”.
“Coimbra já na altura era uma cidade muito jovem”, reconheceu. E recordando aqueles primeiros dias que se seguiram ao 25 de Abril, contou que “algumas pessoas estavam em cima das árvores”.
“Algumas passaram a noite nas árvores, porque era um sítio bom para ver. Ninguém arredava pé. O espaço era caro”, gracejou ainda.
O pai era militar, tinha sido destacado para a Guiné-Bissau, mas naquela altura estava por casa de férias.
“Nunca sentimos receio algum nesse dia. Até porque conhecíamos bem a atuação e dávamo-nos bem com os militares. O meu pai era militar”, explicou. “Era um ambiente diferente, de leveza. As pessoas estavam à vontade, invadiam-nos a casa e depois saíam. Estávamos à janela e estava aqui uma multidão de gente”.
Mesmo no centro da cidade e com a Universidade de Coimbra perto, aquela rua era de habitação para muitos estudantes.
Num distrito um pouco mais acima, no interior do país, a Revolução chegou mais calmamente aos portugueses. Na conservadora cidade de Viseu, foi pela rádio que muitos souberam das movimentações em Lisboa, sem perceber logo que sopravam aí ventos de mudança.
Rosa tinha 10 anos em abril de 1974 e lembra-se “de haver bastante agitação em casa” quando acordou.
“Do que me recordo, não chegamos a ir à escola porque os pais tinham sido entretanto avisados de que não havia aulas nesse dia”, contou, recordando o hábito do pai de ligar o rádio todas as manhãs bem cedo, quando se levantava.
“Por isso ele soube cedo e acordou-nos para nos dizer que não iríamos à escola”.
Rosa e as irmãs mais velhas não foram à escola, mas também não ficaram em casa à espera de notícias, “porque era naquela altura em que, quando não havia escola, vinha toda a gente para a rua brincar, não havia televisão”.
“Vestimo-nos normalmente e viemos para a rua”, revelou, embora não soubesse o motivo porque não havia escola naquele dia. “Havia uma grande incerteza. Em minha casa, a situação era bastante nervosa porque não se sabia o que se estava a passar”.
Aos 60 anos, a Especialista em Avaliação de Ensino Superior reaviva estas memórias salientanto que, naquela altura, era “aquilo que conhecia de mais extremo, de mais diferente”.
À medida que as horas foram passando, as crianças começaram a receber “muitas indicações para não falar, para estar caladas, para não dizer parvoíces”.
“Havia um bocado a sensação de que as coisas tinham mudado, mas que era importante não se falar muito acerca disso. Não havia ainda a perceção clara do que tinha acontecido”, explanou Rosa.
Ainda sem certezas do que tinha acontecido, nos dias seguintes viu que foram “buscar um senhor que vivia perto e que era um dos responsáveis da Mocidade Portuguesa”.
“Era uma pessoa de quem as pessoas mais velhas – nomeadamente as minhas irmãs mais velhas e os amigos delas – não gostavam muito. Era ele que organizava aquelas marchas, em que tinham de ir todos fardados. (…) [Era] quase tipo milícias”, testemunhou. “Lembro-me de vir um carro buscá-lo a casa. E de mais uma vez me ter sido dito ‘não fales nisso’”.
Só soube exatamente o que tinha acontecido na manifestação do 1º de Maio, “onde depois foi organizada uma manifestação, as pessoas manifestaram-se livremente”.
“Não estava de todo seguro de que já se pudesse falar”.
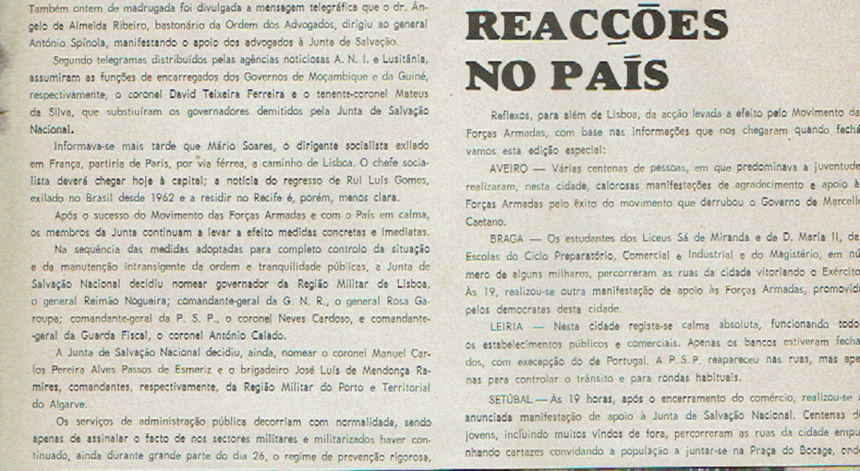
“Para mim essa perceção começou na escola, notou-se logo uma grande diferença a todos os níveis. Começámos a perceber que afinal não era só estar sentado, quieto e calado. (…) Depois havia professores que já eram muito politizados que começaram a falar abertamente sobre isso nas aulas, o que levou muito rapidamente a uma mudança bastante grande dos currículos e daquilo que nós aprendíamos”.
Apesar de Viseu ser uma cidade conservadora, Rosa conta que houve “muitas manifestações” organizadas por pessoas que clandestinamente pertenciam ao Partido Comunista Português e que começaram “a falar livremente”.
“Mais tarde, Viseu foi também palco daqueles movimentos de assalto às sedes dos partidos em que se viam edifícios a arder e coisas a ser lançadas das janelas”.
Não se pode falar do 25 de Abril sem se referir o Alentejo e a “Grândola Vila Morena”. A realidade no sul do país era distinta da que se observava na capital. Não era o epicentro da Revolução, mas a ânsia e o desejo por um país democrático e livre eram os mesmos.
A três dias de fazer 11 anos, Maria Rosa estava em casa, num monte alentejano no concelho de Portel, quando entrou em pânico ao ouvir, na televisão, a canção que marcou o início das operações militares.
“Eu andava na quarta classe, numa escola rural da Atalaia, e tinha uma professora nova. Era o primeiro ano que ela dava aulas”, começou por relatar. “A professora Mariana era muito nova, muito jovem”.
Naquela altura, Maria Rosa e os irmãos tinham sempre aulas ao sábado, onde faziam “outras coisas que não o ensino normal”. As raparigas, descreveu então, aprendiam costura ou croché. Já os rapazes faziam as limpezas do espaço e do recreio, ou tratavam das hortas. “Era sempre um dia diferente”.
No fim de março de 1974, se a memória não lhe falha, a professora Mariana, que tinha o marido no Ultramar, anunciou aos alunos que iam “aprender uma canção nova e que essa canção era um segredo da escola”.
“Um segredo que nós não podíamos dizer em casa, nem cantar a canção na rua”, revelou a atual professora de História, com perto de 61 anos. “E na altura, a palavra do professor era sagrada”. E qual era a canção secreta? Era a “Grândola Vila Morena”.
“Os sábados todos que antecederam o 25 de Abril, a professora Mariana ensinava-nos a ‘Grândola Vila Morena’. Aprendemos a canção de fio a pavio, cantávamos na escola porque ninguém lá estava por perto, porque estávamos num descampado onde só se ouviam as ovelhas ou as vacas”, brincou ainda. “Cantávamos a plenos pulmões a ‘Canção da Professora’, que era assim que a identificávamos”.
“Nós não dizíamos nada em casa”, repetiu. “Aprendíamos ali a canção, mas passando o portão da escola ninguém mais falava daquilo”.
Na quinta-feira em que a Revolução saiu à rua, pela hora do pequeno-almoço, que no monte alentejano da família de Maria Rosa se chamava hora do café, os mais novos quiseram ver desenhos animados. A televisão era a bateria e, como não era fácil recarregar, o tempo de uso diário do aparelho era limitado.
Naquela manhã, aproveitando que a mãe estava lá fora a tratar da horta, Maria Rosa e a irmã mais nova decidiram ligar a televisão antes de irem para a escola.
“A televisão não estava a dar nada. Apareciam imagens estranhas e nós não estávamos a perceber o que era”, estranharam as crianças de então. “A determinada altura a minha mãe vem para dentro e liga o rádio. Ouviu qualquer coisa que nós não percebemos e disse-nos logo que não havia aulas”.
De repente, as irmãs entraram em pânico. “Do nada, a ‘Canção da Professora’ estava a dar na rádio e na televisão”.
“Entrámos em pânico as duas. Era um segredo nosso e nós olhávamos uma para a outra”, descreveu. A questão que as assolava era: “Quem é que falou na ‘Canção da Professora’? Quem é que teve a ousadia de deixar que a canção passasse na rádio?”.
“Tínhamos um mundo tão pequenino que nem conseguíamos perceber que era possível que a música que estávamos a aprender podia estar numa dimensão muito superior, num meio de comunicação. Para nós aquilo era um segredo só nosso, restrito ao nosso sítio, restrito àquela professora e àqueles alunos”.
No meio da agitação que sentiam, as duas crianças começaram a acusar-se mutuamente de terem denunciado a professora Mariana e a canção alegadamente secreta.
“A minha mãe veio ver o que se passava, que gritaria era aquela. E tivemos de contar que a professora Mariana nos tinha ensinado aquela canção que agora estava a passar na rádio e na televisão”, contou ainda. “Já pensávamos que tinha sido um colega qualquer a contar”.
Do 25 de Abril, o que recorda com carinho é “a ingenuidade, esta forma de olhar para as coisas”. Os horizontes que tinha, confessa, “eram extremamente curtos”.
“Não tínhamos a noção de nada”, disse ainda.
De Gândra a Elvas
Há 50 anos, os meios de comunicação eram mais escassos. Nem toda a gente tinha telefone ou uma televisão em casa, os rádios não estavam sempre ligados e os contrastes entre regiões do país eram notórios.
Na freguesia de Gandra, mais a norte de Portugal, a notícia de que havia uma revolução não chegou logo de manhã. Tudo indicava ser um dia normal para Maria, que só “soube da revolução na escola”.
“Chegámos à escola e mandaram-nos embora porque não havia aulas. E depois estivemos em casa uns dias”, começou por contar, admitindo que o 25 de Abril quase que lhe passou despercebido. “Disseram-nos que não havia aulas porque os professores não apareceram, mas não explicaram porquê”.
Como “em casa não disseram nada”, a adolescente de 14 anos continuou sem saber o verdadeiro motivo daquela pausa letiva. Todavia, confessa que “ficou contente” por não ir à escola uns dias.
Só uns dias depois, quando regressou às aulas, é que se apercebeu “que havia qualquer coisa de diferente”.
E rindo-se, acrescentou: “depois os alunos é que mandavam nos professores e era isso que eu achava estranho”.
“Se não queriam aulas, não tinham aulas. Se não queriam aquele professor, não tinham aquele professor. E achávamos piada áquilo”, continuou.
“Ficámos fechados no quartel, não se podia sair. E tinham lá a televisão ligada e só se ouviam marchas militares, mas não havia uma explicação qualquer”, explicou. “Só quando transmitiram o primeiro comunicado é que ficámos a saber. Mas ficámos todo o dia ali fechados”.
Em Lisboa os militares marcavam passo, mas para os tropas destacados em Elvas “era impensável sair” porque estavam “de prevenção” até serem chamados “para um serviço oficial”.
Começaram por ouvir que havia “uma marcha por Lisboa”, mas para seu lamento o “comandante era de gancho” e não deixava os milicianos “ouvir as notícias”. António e os restantes soldados não sabiam “o que pensar” sobre o “pouco que sabiam”.
Havia, contudo, um motivo para a prevenção: “o Forte de Elvas era uma prisão militar [e política], onde estava inclusivamente Saldanha Sanches”.
Os dois jovens naturais de Gandra tiveram consciência dos acontecimentos e dos tempos de mudança já mais perto do 1 de Maio. António admite até que pouco mudou na freguesia depois do 25 de Abril e que as mudanças eram lentas a chegar.
“Os pais continuavam a fazer o que a Igreja mandava. O padre mandava. Tudo continuava praticamente igual”, comentou.
E a irmã acrescentou que, mesmo passando a haver eleições democráticas, ainda “era o padre que dizia em quem se devia votar”.
“O padre dizia-nos: ‘não votem nos comunistas’”, sublinhou Maria.

