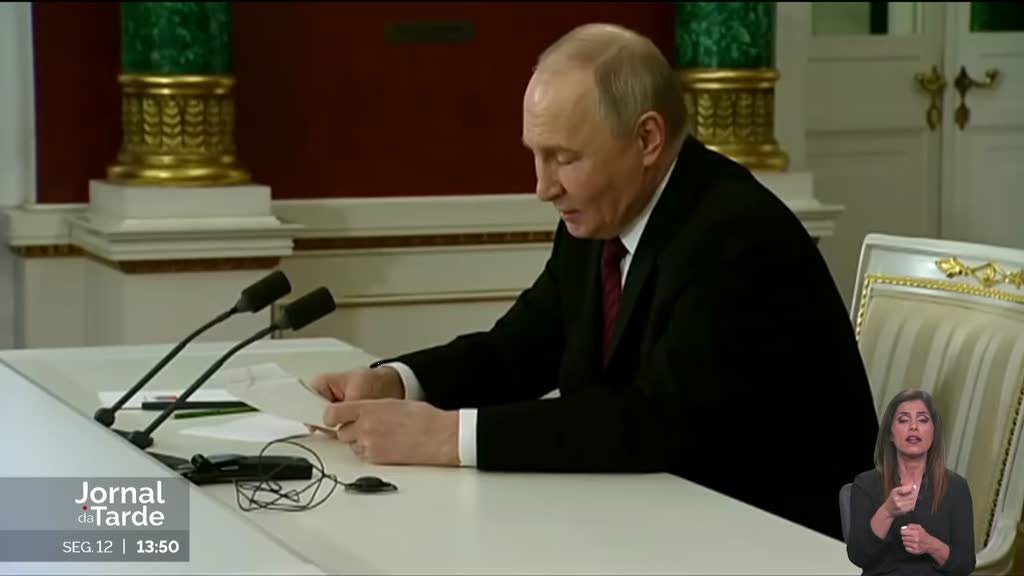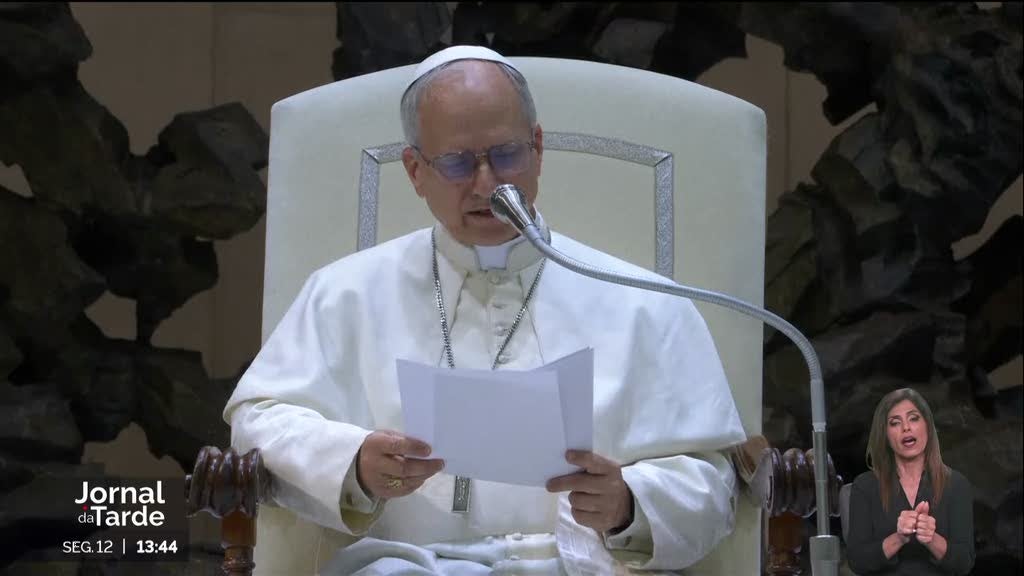Episódio original publicado a 12 de Abril de 2024 | Foto: Ints Kalnins - Reuters
Uma conversa da jornalista Andrea Neves com o Embaixador Pedro Costa Pereira, Representante Permanente de Portugal junto da Aliança Atlântica.
Podem fazer parte da NATO todos os países que partilhem dos principais valores fundamentais que estão consagrados no preâmbulo do Tratado de Washington, nomeadamente a democracia e o respeito pelo direito e pelas liberdades fundamentais, individuais e coletivas. De acordo com o próprio tratado são ainda sempre países europeus.
Não, mas esses estão dentro da NATO desde o princípio. Mas a partir do momento em que a NATO foi constituída com o Tratado de Washington, em abril de 1949, o que ficou estipulado é que as adesões futuras serão para países europeus, dado que o essencial da área de responsabilidade da NATO abarca sobretudo a segurança do espaço europeu e, portanto, os países que podem aderir à Aliança são países europeus. É o que está consagrado no próprio tratado.
É um processo que pode ser muito rápido quando comparado com o processo de adesão à União Europeia.
O que está previsto é que a partir do momento em que há uma manifestação de interesse, por parte de um país, em aderir à Aliança Atlântica – havendo uma adesão grande por parte da sua opinião pública e da sua sociedade civil e uma capacidade para contribuir eficazmente para a segurança na área de responsabilidade da Aliança Atlântica – pode ser endereçado um convite a esse país para aderir à NATO.
É um processo que não tem procedimentos muito rígidos. Não é de todo igual àquilo que se passa no âmbito da União Europeia em que há uma negociação lenta, complicada, com muitos capítulos para negociação.
Sim, há mais países querem entrar. A Bósnia-Herzegovina manifestou o seu interesse, a Geórgia e a Ucrânia também.
Um dos elementos que é absolutamente fundamental para que o país possa entrar dentro da Aliança Atlântica – e ainda mais no contexto de uma organização em que o que está verdadeiramente em causa é a defesa coletiva – é que esse país não esteja em guerra. A partir do momento em que um país entra para a Aliança Atlântica, se porventura estiver em conflito, esse conflito é importado para dentro da Aliança e, nesse caso, por força do artigo quinto – que justamente faz com que o ataque contra um dos Aliados seja um ataque contra todos os Aliados – isso significaria que todos os países da Aliança Atlântica ficariam automaticamente em conflito com a entidade terceira que está em conflito com o país que acabou de entrar.
O artigo quinto é um elemento central do Tratado de Washington, o tratado fundador da Aliança Atlântica. É basicamente neste artigo que assenta a ideia de defesa coletiva e mesmo de dissuasão e defesa.
Foi ativado uma vez depois do atentado terrorista contra as Torres Gémeas nos Estados Unidos, em setembro de 2001, e foi a única vez em que foi ativado.
O Conselho do Atlântico Norte reuniu-se e decidiu que tinha havido um ataque contra um dos Aliados, neste caso contra os Estados Unidos, e tomou as medidas necessárias que levaram, depois, ao envio de uma força expedicionária para o Afeganistão – que esteve lá durante cerca de 20 anos.
O principal objetivo da Aliança Atlântica é garantir a paz. Garantir a paz significa dissuadir qualquer potencial adversário de atacar a área de responsabilidade da Aliança Atlântica. Ou seja, o que se pretende na Aliança Atlântica é garantir a paz mediante uma dissuasão credível contra qualquer ataque às populações e aos territórios da Aliança Atlântica. Quando falamos em populações, falamos em mil milhões de pessoas, portanto, não é tão pouco assim. É uma área bastante vasta.
A dissuasão significa mostrar a qualquer potencial agressor que, se porventura, ele avançar numa agressão contra a Aliança, a nossa determinação em invocar o artigo quinto e em responder militarmente e em força será absolutamente total. A partir do momento em que a nossa credibilidade é assegurada mediante uma dissuasão eficaz, ou seja, mediante a afirmação de que de facto reagiremos contra qualquer ataque, nós procuramos evitar de ter que entrar em modo de defesa.
Portanto, a dissuasão procura evitar que tenhamos que nos defender, mas procuramos criar as condições necessárias para que, caso a dissuasão falhe, possamos combater nas melhores condições para prevalecer e vencer.
O que a NATO faz enquanto organização internacional é dar um apoio à Ucrânia, que não é de natureza letal, ou seja, a NATO, enquanto organização, não dá à Ucrânia um apoio que possa eventualmente ser suscetível de arrastar a organização para um conflito com a Rússia. Nem tomamos quaisquer medidas no âmbito da NATO que possam envolver a Aliança Atlântica nesse mesmo conflito. Toda a ajuda militar letal que é dada à Ucrânia é dada fora do contexto da Aliança Atlântica, seja bilateralmente pelos Aliados, seja no quadro de uma coligação chamada Coalition of the willing. Nesta coligação estão vários países, que ultrapassam as cinco dezenas, reunidos no quadro de um processo que é conhecido pelo processo de Rammstein e que tomam decisões relativamente ao auxílio militar em material letal à Ucrânia, para fazer face à invasão do seu território.
Não, de todo. A ajuda militar letal é dada ou bilateralmente ou no âmbito do grupo de Rammstein.
O Secretário-Geral da NATO não está sequer previsto no Tratado de Washington, mas há práticas que se estabelecem ao longo dos tempos e o que se estabeleceu, como prática, é que o Supremo Comandante Aliado para a Europa é de nacionalidade norte-americana – dos Estados Unidos para não confundir com o Canadá, neste caso – e que o Secretário-Geral da NATO é de nacionalidade europeia.
A primeira sede foi em Paris e, aliás, a NATO já esteve em Londres, também já esteve em Paris e está agora em Bruxelas. Isto tem a ver com os equilíbrios encontrados nos momentos em que estas decisões foram tomadas.
Sim, faz todo o sentido, na medida em que 23 Aliados são também Estados- Membros da União Europeia. Portanto, essa complementaridade é algo que parece evidente, pelo menos à partida.
Agora, isto não quer dizer que essa lógica de atuação conjunta seja particularmente fácil. Estamos a falar de duas organizações que estão já há muitas décadas na mesma capital e que nunca tiveram uma cimeira, por exemplo. Nós estamos a cinco quilómetros da União Europeia, mas nunca tivemos uma cimeira entre a NATO e a União Europeia.
Sim, mas não é uma cimeira propriamente dita. É preciso ver que a NATO tem, sobretudo, uma atuação no âmbito da defesa coletiva. O mandato da União Europeia é muitíssimo mais vasto. Mas, hoje em dia, para se definir uma estratégia que possa ser considerada como sendo global, a única forma de o fazer é juntar os mandatos das duas organizações, na medida em que os instrumentos militares de poder estão do lado da Aliança Atlântica, mas os instrumentos não militares de poder estão sobretudo do lado da União Europeia.
Quando nós falamos em mobilidade militar, por exemplo, falamos da mobilidade militar dentro do espaço europeu e a mobilidade militar é sobretudo definida através da via normativa e esta está do lado da União Europeia.
Tudo o que tem a ver com a política de ajuda ao desenvolvimento, com a política industrial, com a política comercial, tudo isto está no lado da União Europeia. Só juntando a ação de uma e de outra é que se pode ter uma atuação que seja considerada como global. Isto funciona bem a partir do momento em que os desafios são basicamente os mesmos para as duas organizações.
Não, são duas coisas diferentes: a questão dos dois por cento é aquilo que se considera como sendo um patamar mínimo que se deve investir em defesa, atendendo às novas circunstâncias, à conjuntura.
Quando eu falo desta relação entre as duas organizações é sobretudo na lógica de pensar que nós Portugal, por exemplo, que pertencemos à NATO e à União Europeia, não podemos estar a determinar que haja um conjunto de forças que Portugal dá para a União Europeia e um conjunto de forças que dá para a Aliança Atlântica. Portanto, a partir do momento em que nós temos apenas um único conjunto de forças, para nós é absolutamente essencial que as duas organizações possam agir em complementaridade e não de uma forma em que uma duplica aquilo que a outra faz. Isso obrigava-nos a duplicar também aquilo que nós não temos para duplicar.
A questão dos dois por cento é diferente porque a NATO não tem um orçamento de defesa como a União Europeia tem o seu próprio orçamento. Não é assim que funciona a NATO que tem num pequeno orçamento – que assegura o funcionamento, por exemplo, deste quartel-general e de mais algumas dimensões que são essenciais para o seu próprio funcionamento – mas aquilo que está verdadeiramente na base da sua capacidade de dissuasão é a disponibilidade que cada um dos Aliados tem em matéria de defesa. E para isso tem que haver investimentos em defesa.
Em cada um dos Aliados pode haver mais dimensões – contribuições para capacidades, participação em missões e operações, por exemplo – ma são dimensões que só existem se houver investimento em defesa. E isto levou a que se tenha fixado um patamar mínimo de investimento em cada um dos países Aliados, para garantir a credibilidade da Aliança Atlântica, para garantir uma dissuasão eficaz.
Sim. E definiu-se os dois por cento do PIB de cada Estado-Membro como sendo um objetivo que se tenta alcançar, ou seja não é vinculativo, em 2014 porque foi o momento em que a Rússia anexou a Crimeia – e tudo isto já num seguimento que vem depois de tomadas de posição do presidente russo em Munique, em que ele estabeleceu novas ideias sobre aquilo que entendia ser a esfera de influência da Rússia, depois veio a guerra na Geórgia, em que se criaram aqueles conflitos congelados nomeadamente na Abecásia e na Ossétia do Sul e veio depois a Crimeia – e em que o Ocidente acordou para uma nova realidade que punha fim a um período que tinha sido de distensão.
Só que a história retomou os seus direitos e retomou os seus direitos de uma forma tal que em 2014 se procurou reverter este desinvestimento em defesa. Mas isto não se pode fazer de um dia para o outro e, por isso, fixou-se – como sendo um objetivo de tentativa para que os Aliados – o objetivo de chegar a dois por cento em 2024. Alguns Aliados já chegaram a esse patamar. Outros Aliados chegarão um pouco mais tarde. E agora até já estamos num patamar diferente, nomeadamente desde a última cimeira em Vilnius, e o objetivo não é apenas chegar a dois por cento, é que dois por cento seja o patamar mínimo de onde se parte para mais investimentos em defesa.
Há Aliados que já estão em quatro por cento: a Polónia, por exemplo. Os Estados Unidos estão acima de três por cento, bem acima de três por cento, e cada um dos Aliados assumiu o compromisso – de uma forma calendarizada e tanto quanto possível dentro desta década – de chegar aos dois por cento. Para depois, a partir daí, ser sempre a subir.
Portugal participa na NATO através desta dimensão de investimento em defesa de dois por cento. E é preciso notar que, destes dois por cento, é requerido que 20 por cento sejam investidos em aquisição de capacidades ou em desenvolvimento tecnológico. Nós já cumprimos o objetivo dos 20 por cento – mas não é ainda de 20 por cento de dois por cento porque não chegamos aos dois por cento – mas já investimos 20 por cento daquilo que é o nosso patamar atual que neste momento está em cerca de 1,5 por cento. O nosso objetivo é chegarmos aos dois por cento até ao final da década.
Mas para além disso nós participamos em missões, participamos em operações, disponibilizamos as capacidades que são requeridas para essas missões e operações. Nós estamos, por exemplo, nas missões de policiamento nos Países Bálticos, temos forças que estão na Roménia, participamos em missões marítimas, ou seja, Portugal faz a sua cota parte dentro da NATO, dando o seu contributo para que a NATO possa ser uma organização eficaz em todas as áreas.
São cinco, sim. Desde 2014 que a NATO se reajustou e não decidiu apenas investir mais em defesa, tomou outras medidas, reforçou a sua capacidade de prontidão, reforçou a sua capacidade de resposta – são duas coisas diferentes – na medida em que a NATO tem as suas próprias fronteiras e tem forças nessas fronteiras. Mas essas forças são relativamente pequenas e é essencial ser capaz de as reforçar rapidamente em situação de conflito.
A Aliança reforçou também a sua dimensão de comando e controlo e passou a olhar mais para o Sul, adotou uma nova estratégia militar e adotou, agora mais recentemente, um novo conceito estratégico que atualizou o conceito estratégico de 2010, que vinha de Lisboa.
E dentro deste conjunto de medidas – que vão muito para além daquilo que eu acabei de dizer – considerou-se, que era também necessário olhar para aquilo que são os domínios operacionais da Aliança Atlântica.
O espaço sideral é, em si, óbvio na medida em que quando falamos na Guerra das Estrelas, em sentido figurado, compreendemos bem que a natureza do conflito, por exemplo, no ar, no mar ou em terra, pode prolongar-se para a dimensão sideral.
Mas depois entramos numa nova dimensão, que é a das tecnologias emergentes e disruptivas e isto é algo de novo que não existia quando o conceito estratégico foi definido em Lisboa em 2010. Hoje falamos em 5G, em inteligência artificial, em computação quântica, em biotecnologias, em veículos hipersónicos, por exemplo, e tudo isto são novas realidades que têm que ser tomadas em consideração.
Muitas delas ganham expressão naquilo que se pode considerar como sendo o espaço cibernético. O espaço cibernético pode ser um meio pelo qual qualquer potencial adversário pode atacar a área de responsabilidade da Aliança Atlântica.
Ataques híbridos incluem uma multitude de elementos, nomeadamente cibernéticos – mas também de desinformação e outros – e têm a característica especial que é serem feitos, normalmente, abaixo do patamar de ativação do artigo quinto. O artigo quinto é quando se constata que há, de facto, um ataque dentro da área de responsabilidade da Aliança, e constata-se que há um ataque quando se vê a entrada de tanques, de aviões ou de tropas.
Um ataque cibernético é muito mais subtil porque é feito, por exemplo, de uma forma tal que os hospitais podem deixar de funcionar ou os aviões podem deixar de ter condições para descolar e para aterrar. Há toda uma paralisia que é feita dentro do espaço da Aliança Atlântica que pode ser provocado por um ataque cibernético.
Ora, a questão é saber se um ataque cibernético, na altura em que ele tem um lugar, pode ser considerado como sendo o equivalente a um ataque armado no sentido do artigo quinto.
O artigo quinto – que foi concebido em 1949 – não previa ainda a dimensão cibernética e, portanto, podia ver-se facilmente se havia um ataque ou não. Um ataque cibernético torna a questão um pouco mais complicada porque permite a qualquer adversário fazer operações e missões que ficam abaixo do patamar do artigo quinto, mas com evidente desgaste dentro do espaço da Aliança. E portanto esta questão tem muita importância porque a partir do momento em que estão identificados dois novos domínios operacionais, considera-se, que são também passíveis de levar à ativação do artigo quinto.
É de facto o caso. Há uma lógica de 360 graus, que aliás é uma lógica que foi inclusivamente inventada por nós, há uns anos, e que se impôs na NATO porque faz todo o sentido.
Sim, nós Portugal. É difícil olhar para a NATO como agindo apenas num determinado azimute, numa determinada direção, e aquilo que se entende por agir a 360 graus é que a NATO deve ser capaz, para qualquer uma das direções, de desempenhar as suas principais tarefas chave, seja a defesa coletiva, seja a segurança cooperativa – ou seja, a colaboração com outros países e organizações internacionais – seja a prevenção e a gestão de crises. Estas são as três prioridades da Aliança Atlântica.
Neste momento a primazia é, de facto, para o Leste por razões óbvias: nós vemos aquilo que ali se passa e vemos que a NATO, neste momento, deve reforçar o seu flanco Leste. E foi isso que ela fez a partir do momento em que houve a invasão da Ucrânia e em que foi posta em causa a segurança europeia.
O que não podemos aceitar é que, havendo esta prioridade a Leste, se esqueça que tudo hoje está interligado. E o Sul tem uma dimensão fundamental. Percebemos essa importância, por exemplo, quando olhamos para aquilo que se passa no Norte de África e nos lembramos que, há um ano, as milícias Wagner financiavam a sua ação, na Ucrânia, em grande parte com o que retiravam do que se passava na zona do Sahel e nos países do Magrebe.
E, portanto, para Portugal, a dimensão Sul tem importância também pelas implicações. Não é apenas por aquilo que vem do Sul e que não fica no Sul, mas também pelas consequências no Leste. E foi essa a razão pela qual nós procuramos criar condições para que houvesse uma reflexão sobre os principais desafios, as principais ameaças e também as principais oportunidades que podem surgir no Sul.
E essa reflexão foi objeto de um mandato. Na última cimeira, em Vilnius, foi criado um grupo de peritos independentes, que tem sido presidido pela professora Ana Santos Pinto e que vai apresentar agora as suas conclusões.
Estas conclusões irão permitir ao Secretário-Geral preparar uma proposta de conclusões a apresentar na Cimeira de Washington onde se procurará encontrar uma linguagem sobre o que se entende que é o desafio do Sul. O que nós pretendemos é que seja um exercício replicado nos próximos anos e que nos permita garantir que, dentro da agenda da NATO, as questões a Sul também sejam destacadas pela importância que têm não só para os países do Sul da Aliança mas para toda a área de responsabilidade total da NATO.