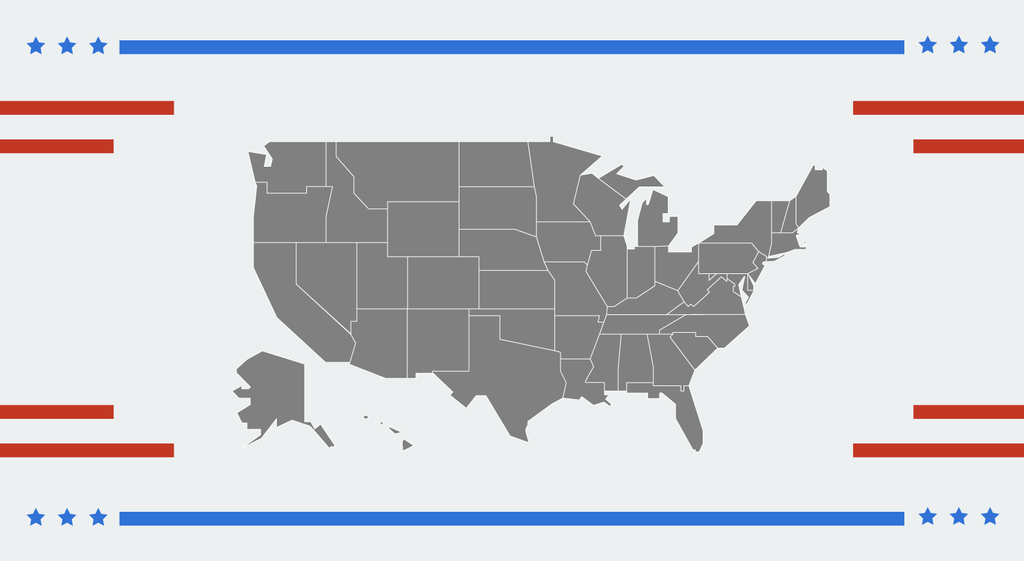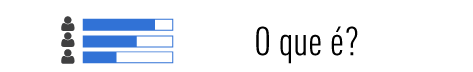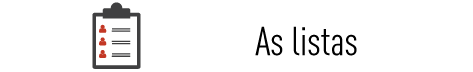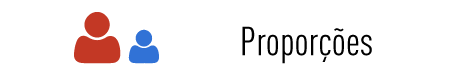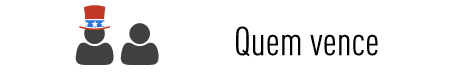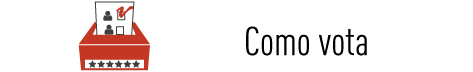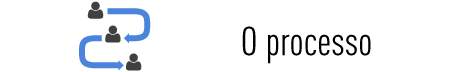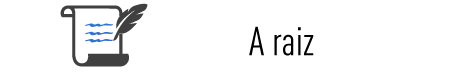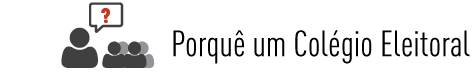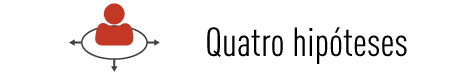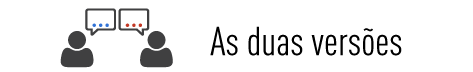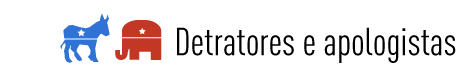No próximo dia 8 de novembro, serão cerca de 200 milhões os norte-americanos convocados para escolher o sucessor de Barack Obama na Presidência. Mas a eleição só ficará consumada em dezembro, quando o Colégio Eleitoral traduzir o veredicto do eleitorado nacional. É uma fórmula que remonta ao nascimento do país. E é um pilar da estrutura federal.
Quando, na cabina de voto, um cidadão norte-americano marca um boletim está, de facto, a ajudar a determinar a composição do Colégio Eleitoral, assim como o sentido de voto dos “eleitores” – a designação dos membros do órgão - do respetivo Estado. Por exemplo, ao optar pela candidatura republicana estará a instruir os “eleitores” do seu Estado a votarem nesse mesmo ticket.
Com raras exceções entre os Estados, dos boletins de voto não constam os nomes dos “eleitores”, propostos pelos partidos. Neles surge, em alternativa, a fórmula “eleitores para”, a que se segue cada uma das candidaturas quer à Presidência, quer à vice-presidência.
Assim, o voto popular de 8 de novembro elege, para cada um dos Estados, as listas de membros do Colégio Eleitoral. A lista de “eleitores” que obtiver o maior número de votos populares forma o conjunto de elementos do Colégio Eleitoral do Estado em causa. Na prática, significa isto que a candidatura presidencial que reunir o maior score de votos populares assegura todos os “eleitores” do Estado.
São exceções àquela regra os Estados do Maine e do Nebraska. Ali a votação popular determina a escolha de somente dois membros do Colégio Eleitoral. Os demais são escolhidos a partir da votação popular em cada um dos distritos.
Os processos de formação das listas de “eleitores” variam de Estado para Estado. Na maioria, os partidos ou candidaturas independentes enviam ao responsável estadual pelo escrutínio uma lista de cidadãos comprometidos com os respetivos tickets, em número igual à proporção de votos do Estado no Colégio Eleitoral.
Historicamente, os partidos Democrático e Republicano – as duas grandes estruturas partidárias da América – escolhem uma de duas formas de composição das listas de “eleitores”: os elementos são escolhidos nas convenções partidárias estaduais, ou são diretamente nomeados pela liderança estadual do partido.
É tradição, nos Estados Unidos, ser-se escolhido para uma lista de “eleitores” como reconhecimento da dedicação ao partido. Nas listas podem figurar altos funcionários do Estado, dirigentes dos partidos e nomes próximos – pessoal ou politicamente – dos candidatos à Casa Branca.
O Colégio Eleitoral está constitucionalmente vedado a membros do Congresso e a funcionários da Administração federal.
A cada Estado é atribuído um número de membros do Colégio Eleitoral igual ao número de senadores (sempre dois por Estado) mais o número de legisladores da Câmara de Representantes. Este último pode mudar de dez em dez anos, tendo em conta a demografia estadual, apurada em recenseamento geral.
Dado que a representação no Colégio Eleitoral assenta na representação no Congresso, aqueles Estados que têm populações mais expressivas têm também mais votos no órgão decisor.
Em suma: a Câmara dos Representantes representa os Estados em função de critérios demográficos; o Senado representa os Estados em proporções iguais, independentemente de critérios demográficos; o Colégio Eleitoral representa a escolha de cada um dos Estados para a Presidência.
Se quiser selar a eleição para a Presidência dos Estados Unidos, um candidato terá de garantir 270 votos no corpo de 538 elementos do Colégio Eleitoral. Se nenhum dos candidatos o conseguir, o processo eleitoral passa ter como bitola a 12ª Emenda à Constituição. E será a Câmara dos Representantes a decidir por maioria simples, com os legisladores de cada Estado a terem direito a um voto.
No caso do vice-presidente, é ao Senado que cabe ultrapassar uma situação de ausência de maioria absoluta.
Só dois presidentes norte-americanos foram eleitos pela Câmara dos Representantes: Thomas Jefferson, em 1801, e John Quincy Adams, em 1825.
Os membros do Colégio Eleitoral “comprometem-se” a votar no candidato do partido que os designou. Mas não há quaisquer provisões constitucionais ou peça de legislação federal que vincule os “eleitores” a votarem segundo os resultados do voto popular nos respetivos Estados.
Por outro lado, o Supremo Tribunal dos Estados Unidos determinou que a Constituição não dá completa liberdade de voto aos elementos do Colégio Eleitoral, pelo que os partidos podem “ajuramentar” os “eleitores” para que votem em determinada candidatura. Em certos Estados, por exemplo, a lei prevê multas ou mesmo a desqualificação para os “eleitores” ditos “infiéis”, que podem até ser substituídos.
No curso da história da democracia dos Estados Unidos, porém, mais de 99 por cento dos “eleitores” honraram o compromisso partidário e nunca um membro do Colégio Eleitoral foi castigado judicialmente por alterar o sentido de voto.
Lê-se no Código dos Estados Unidos (USC, na sigla em inglês) que, “na terça-feira após a primeira segunda-feira de novembro”, em anos divisíveis por quatro, os cidadãos de cada um dos Estados – 50 e o Distrito de Columbia – registados para votar “indicam” os “eleitores do Presidente e do vice-presidente”.
Na “segunda-feira após a segunda quarta-feira de dezembro”, os corpos de “eleitores” reúnem-se nas respetivas capitais estaduais e elegem de facto o Presidente e o vice-presidente.
Os votos do Colégio Eleitoral são seguidamente selados e remetidos a partir de cada Estado ao presidente do Senado, no Capitólio, em Washington. A 6 de janeiro é reproduzido o resultado diante das duas câmaras do Congresso.
Presidente e vice-presidente prestam juramento ao meio-dia de 20 de janeiro.
O conceito do Colégio Eleitoral está na letra do Artigo II da Constituição dos Estados Unidos e na 12ª Emenda, adotada em 1804. Curiosamente, o termo “colégio eleitoral” não está escrito em qualquer porção do edifício constitucional do país.
Começou a ser empregue informalmente na década de 1800, nomeando-se assim o conjunto de cidadãos escolhidos para eleger Presidente e vice-presidente. É em 1845 que, pela primeira vez, aparece citado numa lei federal. Atualmente surge no USC como “colégio de eleitores”.
Os chamados pais fundadores da América cooptaram à História Antiga o conceito de “eleitores”, mais concretamente ao Sacro Império Romano-Germânico. A estrutura desenhada pelos arquitetos da antiga colónia britânica tem reminiscências da Assembleia Centurial da República Romana – neste sistema, os romanos adultos eram agrupados em função da riqueza em conjuntos de 100. E cada uma destas centúrias emitia um voto a favor ou contra as propostas do senado.
A traços largos pode dizer-se que, no Colégio Eleitoral, cabe aos Estados o papel das centúrias, com a ressalva de que o número de votos por Estado é determinado pela representação no Congresso.
É preciso recuar à génese da América – e aos problemas práticos sobre a mesa dos pais fundadores – para perceber as razões na base da criação do Colégio Eleitoral.
Nos seus primórdios a união compreendia 13 Estados com diferentes extensões territoriais e pouco abertos a submeterem-se à vontade de qualquer tipo de autoridade centralizada.
Acresce que a população da jovem união não ultrapassava os quatro milhões de habitantes, espalhados por 1.600 quilómetros de costa atlântica. Eram igualmente escassas as comunicações e as vias de transporte.
No domínio ideológico, por outro lado, vingava a tese de que todos os agrupamentos de natureza política deveriam ser vistos com desconfiança e que as personalidades de real valor não teriam de fazer campanha tendo em vista cargos públicos, mas antes ocupar naturalmente as posições de liderança.
Foram pelo menos quatro os caminhos sopesados pela Convenção Constitucional da América para escolher o Presidente.
Uma primeira via passaria pela eleição no Congresso; uma fórmula abandonada por se temer fraturas de fundo no órgão legislador e riscos para o equilíbrio de poderes entre ramos legislativo e executivo.
Uma segunda via teria confiado aos órgãos legislativos de cada Estado a eleição do Presidente. Temeu-se, neste caso, que a solução estivesse em rota de colisão com a autoridade federal, por vincular o Presidente aos particulares interesses dos Estados.
A eleição popular direta foi também ponderada. Contudo, os autores da Constituição receavam que a dificuldade em fazer chegar a todos os Estados as informações sobre os candidatos levasse os eleitores a escolherem um candidato natural da sua região. Entendeu-se que tal solução levaria a que os Estados mais populosos acabassem por determinar a eleição do Presidente, em detrimento dos demais.
Seria o “comité dos onze” – um grupo de delegados à Convenção Constitucional – a avançar com a proposta da eleição indireta por meio de um “colégio de eleitores”.
O Colégio Eleitoral conheceu duas versões. Na primeira, a cada um dos “eleitores” cabiam dois votos. Pelo menos um deveria recair sobre um candidato que não fosse do Estado do “eleitor”. Seria eleito Presidente quem somasse mais votos no Colégio Eleitoral e a vice-presidência caberia ao segundo classificado. Esta fórmula perdurou por quatro eleições presidenciais.
Com o nascimento dos partidos, o sistema começou a revelar brechas. Em 1800, o Partido Democrático-Republicano apresentou duas candidaturas à Presidência, de Thomas Jefferson e de Aaron Burr. Tiveram o mesmo número de votos no Colégio Eleitoral. O empate desfez-se a favor de Jefferson na Câmara dos Representantes – ao fim de 36 votações.
Perante tal cenário, o Congresso adotaria em setembro de 1804 a 12ª Emenda à Constituição: a partir de então, cada membro do Colégio Eleitoral teria direito a um voto para a Presidência e a outro, separado, para a vice-presidência.
Em dois séculos de história, houve mais de 700 propostas submetidas ao Congresso norte-americano para reformar ou apagar do sistema político o Colégio Eleitoral. É mesmo o tema dominante no conjunto de propostas para emendas à Constituição.
Os críticos da solução questionam, desde logo, a possibilidade de eleição de um Presidente dito “minoritário” – um candidato vencido na votação popular pode ascender à Casa Branca no seio do Colégio Eleitoral.
Um exemplo matemático: um candidato que não reúna um único voto em 39 Estados e no Distrito de Columbia pode tornar-se Presidente se vencer a votação popular em 11 de 12 Estados, nomeadamente Califórnia, Nova Iorque, Texas, Florida, Pensilvânia, Illinois, Ohio, Michigan, Nova Jérsia, Carolina do Norte, Geórgia e Virgínia.
Há também quem argumente que o sistema não traduz a vontade da nação. Desde logo porque a distribuição de votos no Colégio Eleitoral tende a uma sub-representação de Estados rurais. Em 1988, por exemplo, os 3,1 milhões de cidadãos registados para votar nos Estados do Alasca, Delaware, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Vermont, Wyoming e Distrito de Columbia valeram os mesmos 21 votos no Colégio Eleitoral dos 9,6 milhões de eleitores da Florida.
É também invocada pelos críticos a crónica dificuldade dos candidatos independentes ou partidos marginais em obter representação.
Pelo contrário, os defensores do sistema propugnam que uma das suas maiores virtudes é precisamente a de favorecer o bipartidarismo da América.
A distribuição do apoio popular ao Presidente no Colégio Eleitoral, sustentam os partidários do sistema, garante a coesão do país, desencorajando a escolha por regiões mais populosas. Argumentam que o sistema acaba por obrigar os candidatos a lutar pela vitória em blocos de Estados, quando a alternativa seria explorar diferenças regionais.
Os defensores do Colégio Eleitoral alegam ainda que o sistema amplifica as vozes das minorias, que, tradicionalmente, se concentram em Estados com mais votos no órgão. Este é um fator que ajuda a explicar a atenção – por vezes desmesurada face ao real peso demográfico – dos candidatos a grupos minoritários.
Por fim, defendem que a eleição direta do Presidente seria um fator de desestabilização de todo o sistema - com o expectável advento de um multipartidarismo que, advertem, poderia levar a uma profunda mudança de rumo a cada nova administração federal.